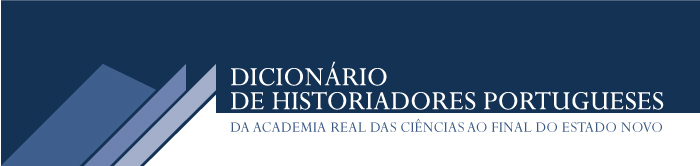

Num plano paralelo, estudou a presença portuguesa em Moçambique e em toda a costa oriental africana. Publicou trabalhos sobre os residentes, colonos e autoridades coloniais portuguesas nos séculos XVI, XVII e no final do XIX (outras obras, que cobririam o intervalo de tempo entre essas, não chegaram a concretizar-se). Na sua visão, essa contínua presença no sudeste africano resulta sobretudo do desejo, embora repetidamente frustrado, de lucro com o comércio aurífero. Não deixou de apontar as fraquezas que identifica no Império português: a falta sintomática de meios, que levava a más condições materiais, o reduzido número de colonos europeus, a insubordinação em relação às diretrizes de Lisboa (ou Goa), viesse dos oficiais mais preocupados com o enriquecimento pessoal ou dos senhores de prazos praticamente independentes da metrópole. A sua posição em relação ao papel da “miscigenação” alterou-se com o tempo: se em obras iniciais a criticava por ter diluído a função “civilizacional”, na década de 1970 apresentava-a como um fator explicativo da permanência portuguesa em Moçambique por tantos séculos ( Axelson , Portuguese in South-East Africa 1488-1600, 1973, p. 242).
Ainda objeto da sua atenção eram as relações (bélicas e diplomáticas) dos portugueses com outros agentes e a influência destes no Império português, sejam potências marítimas rivais como os árabes da costa de Melinde e de Omã, os turcos, holandeses e ingleses (não deixa de dar destaque ao Ultimato de 1890), associações extragovernamentais como a British South African Company e os missionários do Lago Niassa ou, com especial relevo, potentados africanos, do Monomotapa nos séculos XVI e XVII ao Gungunhana em fins de Oitocentos.
