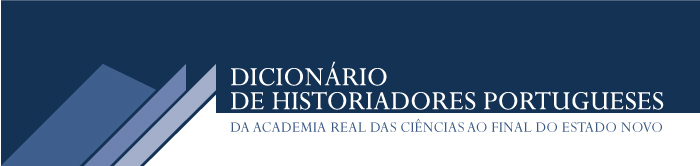

Assim, apoiado num protagonista coevo dos factos, Cerejeira podia apontar, como causa central da decadência nacional, a ausência de uma «classe dirigente» capaz de guiar o país a um «regime económico mais próximo e mais ativo». Não abandonando a leitura decadentista, instrumental ao seu propósito de ação, visando revertê-la, ensaia a interrogação sobre a sua inevitabilidade: recusando o «fatalismo histórico», os pressupostos epistemológicos em que se baseia vedam à historiografia a resposta a essa questão, dado que a disciplina histórica «não cura de saber o que devia ser», cingindo-se ao «seu domínio próprio», ou seja, «o que foi» (Clenardo, p. 194). Sobretudo, permitia-lhe mostrar a insuficiência das teses que apontavam a influência religiosa como motivo central dessa decadência, sustentando que «em Portugal exagera-se facilmente [...] o papel da religião na grandeza política e na prosperidade material das nações». Embora a religião pudesse contar-se entre essas causas, ela não seria «sequer a mais importante». Ou seja, os propósitos, objetivos e incidências da religião e da política eram claramente distintos: aquela «visa directamente a ordem sobrenatural», o que permite valorizar a sua influência na grandeza política e material dos povos «só indirectamente» pela sua «acção moral» (Clenardo, p. 213).
O interesse de Cerejeira pelo período medieval é revelador do enquadramento metodológico da sua atividade historiográfica, tanto quanto dos propósitos ideológicos que lhe são subjacentes. O rigor analítico e a clareza expositiva de A Idade Média (1936) servem o intuito de rebater quer os modismos intelectuais que tomavam por igual esses mil anos como «falsa noite de 10 séculos», quer as suas reabilitações pelo Romantismo, que considerava terem sido «muitas vezes mais generosas que prudentes» (p. 11). Rebatendo as visões da «era da barbaria», dos «terrores do ano mil» – visando Michelet cuja História de França considerava um «belo livro de literatura...» –, do «nul bain pendant mille ans» do mesmo historiador francês, do «jus primae noctis» ou da «miséria do povo», procura um retrato equilibrado da medievalidade («verdadeiro» é o termo que usa), notando os seus progressos jurídicos, artísticos, filosóficos, económicos, científicos e teológicos, o que lhe possibilitava sublinhar, contra as perspetivas que assacavam à Igreja a causa das supostas trevas medievais, o papel do «Cristianismo na formação da alma europeia», sem sombra, porém, de intencionalidade passadista: «Certamente, o progresso não está em... recuar até ela» (Cf. A Idade Média, p. 174). Nas suas Notas históricas sobre os ordenados dos lentes da Universidade ensaia uma incursão pelos âmbitos da história económica e social, terreno de abordagem incipiente na historiografia portuguesa coeva; sem o fôlego da investigação direta sobre essas questões, não deixa de as considerar, tal como fizera no Clenardo, quando aprecia o período medieval, mostrando-se atento aos estudos de Alberto Sampaio e Gama Barros, bem como à produção historiográfica gaulesa sobre a temática.
