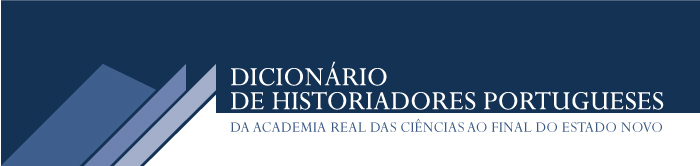
A ruína generalizada que daí resultou explicaria, na perspetiva do historiador, a disparidade entre a África próspera encontrada pelos portugueses dos séculos XV e XVI e aquela que os exploradores do século XIX tinham descrito. A presença portuguesa em África é, portanto, vista como um fenómeno amplamente negativo.
Tirando no que toca ao tráfico negreiro, extensamente descrito e caracterizado, a presença portuguesa em África no intervalo de tempo entre as viagens iniciais e as guerras de independência do século XX recebe do Autor referências mais breves, ainda que frequentes. Estas tendem a acentuar, como é comum entre autores anglófonos que escrevem sobre o Império português, a fraqueza e insegurança das autoridades coloniais, a disparidade entre o disposto na lei (a partir do período liberal) metropolitana e a realidade do espaço colonial, o número reduzido de colonos brancos, a exploração económica modesta e a limitada ocupação efetiva do território (só colmatada pelas expedições de “pacificação” de finais de Oitocentos e inícios de Novecentos), traçando no seu conjunto uma imagem não elogiosa do colonialismo português. De um ponto de vista mais humanitário, Davidson aponta a ausência quase completa de desenvolvimento nas regiões sob controlo português e a miséria das populações africanas colonizadas, o alcance muito limitado de instituições dedicadas à saúde e à educação, etc. O Estado Novo veio alterar, até certo ponto, essa situação, trazendo uma maior centralização e algum desenvolvimento (é de notar que o Autor observa que tais mudanças vêm em continuidade com a política da Primeira República, nomeadamente do governador de Angola Norton de Matos), mas com sérias lacunas e à custa de maior opressão das populações africanas.
