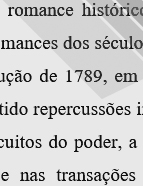Definição
A designação «romance histórico» remonta ao século XIX. É no início deste século que determinadas circunstâncias sociais, políticas e económicas favoreceram o aparecimento desse género, que alguns consideram híbrido, porque pretende juntar a ficcionalidade própria do fenómeno literário com a verdade, elemento fundamental para a construção do discurso histórico. Não quer isto dizer que a reescrita do passado estivesse completamente ausente dos textos produzidos antes de oitocentos; contudo, os propósitos eram diferentes e o modo de relacionamento com o passado era efetivamente de índole muito diversa.
Como alerta Peter Burke, em The Renaissance Sense of the Past, o homem medieval não perceciona o passado como diferente do presente, faltando-lhe o sentido de anacronia e a correspondente dimensão temporal. Esta falha estrutural presente na literatura, frequentemente com a atribuição de características míticas, angélicas ou demoníacas às personagens convocadas, reflete-se na pintura, de uma forma ainda talvez mais visível, quando vemos personagens bíblicas com vestes medievais e insertas em ambientes completamente anacrónicos. A incapacidade de posicionamento temporal correto é compensada por uma distância espacial que se encarregaria de legitimar estes desencontros, colocando os protagonistas em lugares quase inacessíveis, desconhecidos, dificilmente verificáveis.
A partir da influência de Petrarca começa a desenhar-se um novo modo de apreender o passado, percebendo-se pela primeira vez as diferenças entre as diferentes épocas e as mudanças na linguagem, no vestuário ou nas leis (Peter Burke, The Renaissance Sense of the Past, 1969, pp. 27 e 39), decorrentes de inevitáveis transformações. No entanto, apesar de já haver uma certa consciência da diferença, os textos dos séculos XVI, XVII ou XVIII não se preocupam ainda com reconstruções históricas mais ou menos fidedignas, nem com a explicação do presente, tendo em conta o passado. Este ainda se reveste de indefinições fundamentais, o que leva os autores a usarem personagens referenciais (com existência histórica) descontextualizadas, isto é, de autenticidade duvidosa. Três exemplos ao acaso servirão para ilustrar o que acabo de dizer (Maria de Fátima Marinho, Um Poço sem Fundo… 2005, pp. 44-45): na Crónica do Imperador Clarimundo, de João de Barros (1522), assistimos a uma visão épica e mítica da fundação de Portugal, explorando-se a teoria da ascendência húngara do Conde D. Henrique; Camões, em Os Lusíadas (1572) limita-se a enumerar os feitos heroicos (e um ou outro amoroso, de que o episódio de Inês de Castro é, sem dúvida, o mais célebre), sem qualquer preocupação de enquadramento social, político ou outro – na verdade, só os feitos heroicos eram dignos de referência, ficando os demais abaixo da dignidade da história (Burke, The Renaissance…, p. 105); por último, é ainda de referir a tragédia Castro, de António Ferreira (1587), onde em várias tiradas, se atribui ao rei Afonso IV, pensamentos e desejos típicos de um rei renascentista (aspiração pela aurea mediocritas e argumentação maquiavélica), impossíveis de encontrar em meados do século XIV. Nestes três exemplos, se vê a ausência de sentido histórico propriamente dito e a incapacidade ou despreocupação em fornecer um painel fidedigno do passado.