
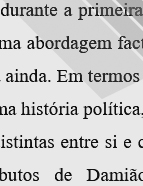
................................
Num outro patamar, mas igualmente significativos seriam os contributos de Luís Augusto Rebelo da Silva (1822-1871), responsável também por uma História de Portugal dos Séculos XVII e XVIII, e primeiro professor de História do Curso Superior de Letras, assim como os de José Maria Latino Coelho (1825-1891) autor de uma relevante História Política e Militar de Portugal desde os fins do Século XVIII até 1814, que deixou incompleta. Enquanto isso, no campo da História do Direito este é o tempo marcado pelos trabalhos de Henrique da Gama Barros (1833-1925) sobre história administrativa. Numa linha que combinava erudição e divulgação, Manuel Pinheiro Chagas (1842-1895) também se viria a destacar pela sua polémica obra historiográfica – muito glosada, por exemplo, por Eça de Queirós – mas legando-nos uma História de Portugal em vários volumes, depois continuada por Barbosa Colen e Alfredo Gallis, onde a linha narrativa à maneira positivista se impunha ao leitor.
Com efeito, em ternos internacionais, ao aproximar-se o final do século XIX, podemos considerar que o debate historiográfico era dinamizado pela oposição entre duas correntes. De um lado tínhamos os positivistas, na linha de Auguste Comte (1798-1857). Do outro, apareciam os idealistas como Wilhelm Windelband (1848-1915) ou Heinrich Rickert (1863-1936). Se a primeira escola atribuía à pesquisa histórica os objectivos fundamentais de tentar descobrir factos novos e eliminar o erro através do exercício da crítica histórica, os idealistas, sobretudo alemães, apostavam numa clara distinção entre História e Ciência. Para estes, o historiador deveria basear-se na intuição enquanto instrumento e forma de abordagem do passado. Por esta razão, o Historicismo, de raiz idealista, afirmou-se pela diferenciação que fazia do binómio Ciências Naturais / Ciências do Espírito, entroncando a História, claro está, nesta segunda categorização. As Ciências Naturais detinham o conhecimento objectivo e a sua explicação, enquanto as Ciências do Espírito se distinguiam pela subjectividade e relatividade do conhecimento da natureza. Sem um vencedor claro, a querela passou para o século XX.
No final, registou-se uma espécie de “acordo” entre as partes. Nos planos metodológico e teórico ambas as correntes partilhavam conceitos. O documento histórico era o documento escrito, sendo a crítica textual a única metodologia válida. O facto histórico era entendido como um fenómeno único, singular, atomizado – o chamado acontecimento. Já o tempo histórico era linear, contínuo e irreversível – a sucessão dos acontecimentos. Por fim, o sujeito histórico era entendido como o ser individual, voluntarista, personificado pela grande figura ou herói – o actor do acontecimento. Resumindo argumentos, a História era entendida como uma sucessão de acontecimentos importantes, protagonizados no tempo por figuras destacadas. De uma outra forma pode-se afirmar que a História era percebida, assim, como um mero acto de recitar os factos políticos, que se sucediam cronologicamente e encadeavam, por vezes sem nexo de causalidade entre eles. A História estava reduzida ao “événementiel” mais puro.
