
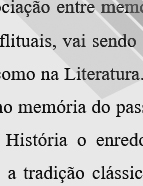
................................
Começarei apenas por recordar um caso particularmente específico da memória histórica e literária (o terramoto de 1755, que atravessa todos os géneros literários e não-literários), para me ocupar depois dos séculos subsequentes. Sendo de natureza entre si diversa, todos os textos a que a catástrofe de 1755 deu origem partilham entretanto, naturalmente em maior ou menor grau, alguns elementos comuns que podemos desde já anotar: o reconhecimento da perturbação de uma estabilidade que começa por ser geográfica e arquitectónica, para logo passar a ser histórica, simbólica e antropológica; os efeitos sobre a compreensão de um fenómeno que, porque salta várias fronteiras do conhecido, cedo se transforma em paradigma do incompreensível, com os consequentes debates sobre como compatibilizar Deus e a destruição havida; a conformação do medo e do terror como efeito maior do acontecido, como já Goethe notava: “Talvez que o ‘Daimon do medo jamais tenha espalhado tão velozmente e tão poderosamente o seu terror sobre a Terra” (Goethe, Dichtung und Wahrheit, 1998). A experiência do Terramoto e do Maremoto de 1755, a experiência de destruição de Lisboa e da inimaginável aniquilação humana que lhe está associada configuram um evento a todos os títulos memorável, correspondendo ao que o conceito de memória cultural, como inscrição de um evento traumático na matriz social e simbólica, recobre. Vários textos contemporâneos do evento apontam para uma série desses elementos, que acabam por constituir quase um lugar-comum. Assinalem-se desde já dois deles: a manifestação do que poderemos designar como uma testemunha ocular e a consciência de que, por se ter visto demais, o discurso fica ‘embaraçado’, e a palavra tolhida. Parece pois haver uma relação contrária e quase paradoxal entre ver e dizer, porque o que sobra, como excesso, da primeira, é o reverso do que falta à segunda. E, entretanto, todas as narrações feitas endereçam essa dificuldade de dizer, resolvendo-a, quer pelo lado de uma apresentação exaustiva da história e dos sucessos dos terramotos, em particular o de Lisboa (Moreira de Mendonça); quer pela escolha de um tom patético e exclamativo, que grande parte da poesia dedicada ao tema, de João Xavier de Matos ao Abade de Jazente e a Domingos dos Reis Quita ou Francisco Pina e Melo, optará por desenvolver. Ser testemunha ocular é, com efeito, uma das posições privilegiadas para assegurar a legitimidade daquilo que se consegue narrar. As implicações são várias. Por um lado, trata-se de dar conta de uma presença que é garante de um saber: quem conta esteve lá, e o carácter de atestação da experiência histórica permitir-lhe-á assegurar quem lê da veracidade do que conta. Por outro lado, esta dimensão é tanto mais importante, mesmo necessária, quanto se sabe também que se fala de um evento extra-ordinário, cujo carácter fora-do-comum poderia remeter para o território do ficcionado: ora, trata-se de assegurar que a realidade ultrapassa, em poucos mas não menos violentos casos, o que se entendia ser apenas do domínio da imaginação, ou mesmo do mito (as analogias várias do Terramoto com a submersão da Atlântida, narrada por Platão, dão precisamente conta deste aspecto, bem como as analogias com cidades bíblicas como Sodoma, Nínive, Babilónia). Por último, ser testemunha ocular também aponta para um outro, e a meu ver não menos significativo, elemento, cujas raízes podemos encontrar no Livro de Job na Bíblia: toda a destruição tem de conseguir preservar alguém que, tendo visto, possa vir a contar, porque sem isso nenhum futuro guardará memória (e por isso saber) do passado. Isto significa que toda a catástrofe nunca poderá ser completa, caso em que seria o terreno da própria humanidade que se encontraria ameaçado. Poder contar uma história surge, então, como fundação do território do homem enquanto ser histórico, cultural, político e até simbólico.
