
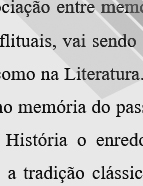
................................
Em segundo lugar, a permanência deste imaginário histórico depende, em grande medida, das alterações e das transformações que sabe integrar. Assim, se o romance do século XIX segue sobretudo a linha de um relato fiel às grandes linhas da História, nela inserindo uma intriga individual em que espaço privado (o amor) e espaço público (a política) se cruzam, podemos entretanto nele detectar, segundo a proposta interessante de Pierre Barbéris (Prélude à l’Utopie, 1991), duas diferentes modalidades: na primeira, o panorama histórico funciona sobretudo como grande enquadramento histórico de uma intriga que, a pouco e pouco, se vai “privatizando”, colocando o indivíduo, as suas relações e as suas contradições, no palco central da narrativa; na segunda, relacionada com o modelo scottiano, a intriga individual, sendo importante, pode entender-se como o motor a partir do qual é a cena da História (e da sua reconstituição) que ocupa o protagonismo do romance. Ora, o século XX introduz neste panorama (que podemos designar como a ficção histórica clássica) significativas alterações. Uma delas constitui o propósito de revisão, que se exprime num projecto ficcional que, a maior parte das vezes, repousa sobre a significativa alteração de uma ou mais premissas do saber histórico estabilizado. Podemos dar como exemplo deste procedimento o episódio desencadeador de vários dos romances históricos de Saramago; o facto de um acontecimento súbito alterar a História, ou pelo menos o discurso que dela pode ser feito (por exemplo na História do Cerco de Lisboa), constitui o ponto de partida para uma ficção histórica que repousa sobre a possibilidade e a potencialidade de revisão do consabido. Uma outra alteração, com esta relacionada, implica o reconhecimento de leituras alternativas da História, o que significa que o discurso da História nunca está completamente feito, e não se esgota na dualidade entre verdade e mentira. Finalmente, como lembra Hutcheon, estas ficções têm também um propósito metaficcional, o que significa que a reflexão sobre os objectivos e intuitos do discurso histórico se encontra duplicada por uma reflexão sobre a natureza, as possibilidades e os limites do discurso ficcional. Relativamente a ambos podemos encontrar a ideia (novecentista) de suspeita sobre a capacidade de qualquer discurso coincidir totalmente com a verdade (ou o que se supõe que ela possa ser).
Em grandes traços, podemos dizer que aquilo que Alexandre Herculano veio instituir dentro da literatura portuguesa representa, na sua evolução, uma das linhas mestras que é necessário reconhecer. O imaginário histórico como força motora e desencadeadora da ficção corresponde à invenção de uma tradição literária de que hoje temos de nos saber ainda herdeiros. A maior parte das suas narrativas deve ser relacionada directamente com o trabalho de pesquisa histórica no qual Herculano estava também empenhado durante o mesmo período. Isto é especialmente verdade para textos como “A Dama Pé-de-Cabra”, que parte de pequena narrativa contida nos Livros de Linhagens medievais; ou “Arras por foro de Espanha”, em que a memória das crónicas de Fernão Lopes é evidente; ou “A Abóbada”, em que a independência de Portugal, depois da crise de 1383-5, é arquitectonicamente configurada através do fecho da abóbada do mosteiro. Esta ficção de carácter histórico é aqui maioritária, abrangendo ainda períodos como o da independência de Portugal ou o da viagem de Vasco da Gama à Índia. Mas ao lado dele, e manifestando como a memória do passado é sempre uma forma de reflectir sobre o presente, encontramos ainda neste conjunto exemplos da narrativa de carácter contemporâneo, que devem ser mencionadas pela sua manifestação de diferentes características: “De Jersey a Granville”, um episódio directamente relacionado com a experiência do exílio político de Herculano, e por isso ainda uma forma de a política e a História interferirem mesmo numa ficção de carácter individual e memorialístico.
