
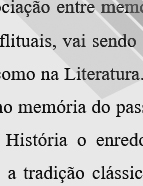
................................
Aliás, Almeida Garrett não fez outra coisa com as incursões históricas que encontrarão o seu lugar geométrico em Frei Luís de Sousa (1844), mas que ele constantemente revisita, desde o imaginário clássico ou de raízes historicamente portuguesas das suas primícias teatrais; quer ainda com a incursão mais evidente no romance histórico, Arco de Sant’Ana (1845-50). Em todos eles, o propósito não é o de ressuscitar o passado apenas pela “cor local” que ele implica, mas o de arrastar o passado para o presente, encontrando analogias ou manifestando diferenças, sempre encarando esse passado como uma forma de restituir o presente (e a História do presente) a uma compreensão reflectida. O contributo de Frei Luís de Sousa para a tradição da memória histórica (e mítica) é a todos os títulos decisivo. Por um lado, é inegável a sua densidade histórica, simultaneamente poética e simbólica, com a colocação da acção no início do século XVII, durante o período da dominação castelhana em Portugal: trata-se aqui de encenar a presença de uma nação que se representa como um espectro colectivo, na realidade incapaz de se auto-afirmar através de uma independência que seja algo mais do que mero gesto político. Ao lado deste espectro colectivo, encontramos vários outros, que representam também de forma amadurecida a herança shakespeariana, a começar por Camões, o Poeta dos poetas, que reaparece neste para uma revisitação que é pessoal e também colectiva. Não apenas o seu nome e a leitura de excertos da sua epopeia nacional, Os Lusíadas, sintomaticamente iniciam a acção; mas também a sua efígie na segunda parte do drama, vai tutelar o adensar da intriga e o seu desfecho, numa sala em que os outros dois retratos são de outros (supostos) mortos, o rei Dom Sebastião e o primeiro marido de Dona Madalena, Dom João de Portugal, ambos desaparecidos em 1578 na batalha de Alcácer-Quibir. Dom Sebastião e Dom João correspondem assim a outros dois fantasmas, cuja presença se torna cada vez mais evidente no seu próprio carácter impalpável. Assim, o inesperado (mas a todos os títulos inevitável) regresso de Dom João de Portugal, mais de vinte anos depois do seu desaparecimento em África, explicita o que desde o início augurava ser uma história de involuntário adultério e traição, cujas consequências se farão sentir sobre todas as personagens. A interrogação da História faz-se, assim, não apenas pela capacidade de declinar as memórias que ela permite manter, mas ainda por tornar visíveis as contradições e os anacronismos que também a constituem. A gravidade trágica pretendida por Garrett serve-lhe para reflectir sobre o que já na altura lhe surgia como o declínio dos valores éticos, morais e políticos da nação. Deste ponto de vista, o carácter anacrónico (e mesmo ultrapassado) da tragédia, em tempos de drama romântico, é, e como bem viu Nietzsche nas suas Meditações Intempestivas (Unzeitgemässe Betrachtungen, 1873-1876), uma das condições paradoxais da modernidade. Fernando Pessoa, ao criar em Ricardo Reis o mais clássico dos nossos poetas clássicos, não faz outra coisa: vai a contra-pêlo da História, e por isso produz uma História ainda mais espessa do que a que parece surgir sem problemas.
