
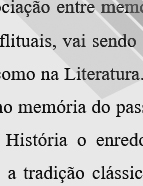
................................
A realidade pós-colonial, na literatura portuguesa, foi despertada como vimos pela obra de António Lobo Antunes, toda ela uma longa reflexão que, integrando uma extrema multiplicidade e diversidade de pontos de vista efabulatórios, não pode nunca deixar de ser reconduzida àquilo a que podemos chamar a condição histórica do Portugal pós-imperial. Tal reflexão prolonga-se em autores vários como Dulce Maria Cardoso, Lídia Jorge, Helder Macedo, Maria Velho da Costa – um mundo sacudido pelos ventos da História, e uma representação agitada das permanentes instabilidades que nele se manifestam, sempre com a consciência lutuosa de uma História que inexoravelmente produz vencidos e deserdados.
A par de tudo isto, a literatura integra, da visão histórica, a história da diversidade das transformações sociais. Desde o final do século XVIII, assistimos à entrada quase inesperada de tipos e personagens que deixam de corresponder aos padrões da “alta literatura” e aos temas canónicos, para começar a “esgarçar” o tecido literário com um outro tipo de História: o poeta toma o seu chá e fuma (Correia Garção, e Cesário Verde fá-lo “freneticamente”); Camilo Castelo Branco faz a crónica de pequenas histórias de interesses, de traições pessoais e sociais, de regras e leis aceites ou traídas, de emigrantes regressados (os “brasileiros”) que se tornam um símbolo dos novos tempos, de caciques locais cujos micropoderes se desdobram nas relações intrafamiliares e nas relações afectivas, de estruturas políticas que dão conta das fragilidades do sistema parlamentar (de que Garrett também se apercebera), das complexas teias que se vão tecendo entre ruralidade e espaço urbano, do poder do incipiente capitalismo na construção de uma sociedade que se dizia ser nova. A narrativa de Camilo Castelo Branco é um dos mais complexos painéis da sociedade portuguesa no século XIX, e um manancial literário que contém arquivados casos e procedimentos de um Portugal que a guerra civil da primeira parte do século e o regime parlamentar subsequente não tinham podido totalmente emancipar do obscurantismo. Dificilmente a queda do Antigo Regime e a entrada no Portugal contemporâneo teriam podido encontrar melhor cronista do que este escritor, encadeado pelas perturbações passionais, históricas e sociais que experiencia e descreve. Se a isto acrescentarmos o desenvolvimento da moda do folhetim, e a forma como este género novo reflectia as condições da nova vida urbana que cada vez mais se acoplava à noção de sociedade moderna, não será difícil encontrar, nos textos folhetinescos de Júlio César Machado e de António Pedro Lopes de Mendonça, uma galeria interessantíssima de procedimentos típicos de uma sociedade que a História se encarregava de mudar, de forma cada vez mais acelerada. Por outro lado, enfim, começa a surgir em diferentes romances a crítica directa a situações como o tráfico de escravos, que podemos considerar como um dos tópicos históricos que mais impacto tem dentro da representação narrativa: os navios negreiros e aqueles que à custa do tráfico de escravos, entre África e o Brasil, continuavam a enriquecer, apesar da abolição do tráfico em 1836, constituem talvez um dos marcos deste tipo de interesse, cujo alcance histórico e também político deve ser sublinhado (lembremos a abolição da escravatura em todo o império português, em 1869). Até Maria de Monforte, d’Os Maias, de Eça de Queirós, filha de um “negreiro”. Mas também a emigração, quer interna (do campo para a cidade), quer de Portugal para outros países (no século XX para fugir à guerra colonial e para encontrar melhores condições de vida): tudo isto está espelhado em inúmeros textos literários, de vários modos.
