
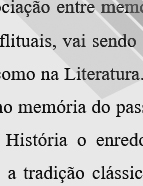
................................
Já vimos o peso histórico de que a figura de Camões se reveste no texto nuclear de Garrett, Frei Luís de Sousa. Antes dele, ainda no exílio, Garrett tinha publicado um poema narrativo intitulado Camões, a respeito do qual afirma Gabriel Magalhães (“De «Camões» ao «Romanceiro»”, 2009, pp. 169-208), em observação cujo alcance histórico deve ser especialmente sublinhado, e que, até à data, não foi ainda objecto de nenhum estudo específico (o que não deixa de ser estranho, como “ponto cego” da nossa consciência pós-colonial): o facto, por ele recordado, de a declaração de independência do Brasil ter ocorrido em 1822, e de ela ter sido reconhecida por Portugal no mesmo ano em que Camões é publicado, 1825. Este facto, recorrentemente esquecido, permite-nos olhar para o poema de Garrett à luz de um outro conjunto de problemas, articulados ainda com a noção de perda. No final do 1º quartel do século XIX, a independência do Brasil significa efectivamente um redimensionar da pátria que Portugal pode ser: um Brasil que, a diferentes olhares, tinha surgido como a hipótese de criar um “outro” e mais novo Portugal. Não admira, pois, que Magalhães considere Camões como “um texto que regressa do império” (Idem, p. 179), sendo por isso, para 1580 como para 1825, uma dupla reflexão sobre aquilo a que chama “um luto imperial”. Ora esta questão surge como um elemento decisivo na legitimação de uma leitura que não é apenas nacional, mas que começa já a ser pós-colonial. A primeira grande perda moderna do império português ver-se-ia assim simbolicamente inscrita no regresso em perda de Camões, bem como na impossibilidade desse regresso para Garrett. A epopeia não teve pois como função única uma construção ideal da identidade nacional, ou uma glorificação da Expansão que a essa identidade foi associada. Ela abriu portas também à construção de uma ideia de perda moderna que acompanhou, sobretudo, a concepção de Portugal ao longo dos séculos XIX e XX. Sem Garrett, Oliveira Martins não teria podido ler Camões como o canto do cisne de Portugal como nação portuguesa. Ora, Oliveira Martins, o historiador que sob vários pontos de vista herda e prolonga o magistério historiográfico de Herculano, moldará a interpretação colectiva que estará na base dos decisivos eventos históricos que acompanham o final da monarquia, na passagem do século XIX para o século XX, e entrará na conformação de muitas gerações novecentistas, em particular na primeira parte do século. Com Guerra Junqueiro, outra figura paradigmática de reflexão literária sobre a identidade nacional (associada à ideia de decadência nacional), Oliveira Martins fará entrar no século XX, ligada à ideia da epopeia camoniana, uma reflexão sobre Portugal de que ainda hoje podemos considerar-nos herdeiros. A relação com o passado, que sustenta o pensamento histórico, é variável em termos de extensão e em termos de juízo avaliativo, o que significa que a consciência de aparecer “fora de tempo” é um dos fenómenos históricos de contornos mais complexos e mais interessantes de seguir. Para que isso aconteça, é necessária uma consciência temporal heterogénea, que integra a compreensão de que a ideia de progresso (fundadora do pensamento positivista) não permite descrever a totalidade das formas históricas que os objectos e os fenómenos podem tomar e efectivamente tomam. Este é, em traços gerais, o fundo do problema aqui equacionado através do exemplo de Guerra Junqueiro, ou melhor, da forma como a articulação entre Junqueiro e a sua leitura por Pessoa corresponde a uma forma histórica de, no século XX, se receber a epopeia e a transformar, revendo-a. A epopeia, essa, continua sempre a regressar, não se cansa de o fazer.
