
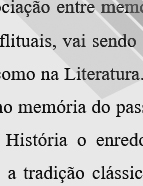
................................
Uma Viagem à Índia é uma reescrita paródica de Os Lusíadas, reescrita muito interessante e complexa. Apresenta-se estruturalmente como um poema épico – e mesmo, como veremos, um determinado poema épico, específica reescrita da epopeia camoniana. Mas a verdade é que dificilmente o poderíamos considerar uma epopeia. Eduardo Lourenço refere-se a este texto como “sobretudo [um]a contra-epopeia, ao mesmo tempo luminosa, paródica e burlesca” (“Prefácio: uma viagem…”, 2010, p. 15). Mas a sua proximidade de (e mesmo aproximação a) Os Lusíadas implica, em nosso entender, que é (ou quer ser) mais do que “apenas” uma contra-épica. Em certo sentido, é a própria noção de aggiornamento que aqui está no centro da discussão e, através dela, a de diferimento cultural, ou da cultura como repetido diferimento. Talvez não seja errado relacionar esta obra de Tavares com a recuperação (também ela irónica) de uma estética da imitação de que a nossa originalidade de origem romântica tanto julga encontrar-se alheada, sem o conseguir, sem o poder: sob que condições é hoje possível escrever algo que responde à épica, sendo todavia devedor do que neste início do século XXI a tornou impossível, ou pelo menos difícil e precária? Esta resposta ou reescrita é, pois, e como todas as outras, uma profunda homenagem, que tem de ser reconhecida como parte integrante de uma contra-leitura da epopeia e da sua complexa e perturbadora recepção na modernidade. O mesmo Gonçalo M. Tavares tem, na sua já muito vasta obra, muitas narrativas que não podem deixar de ser lidas com o pano-de-fundo do Nazismo e em particular do Holocausto, evento histórico que teve na literatura portuguesa um surpreendente pouco eco (talvez por termos sido um país neutro? Talvez pelo efeito da censura?). O certo é que, no início do século XXI, e “a contra-pêlo”, Gonçalo M. Tavares revisita o que tinha ficado por dizer (talvez fique sempre por dizer), e em quase nenhuma das suas narrativas nos podemos alhear de uma História que vive embrenhada no coração sombrio das trevas do Holocausto, sem delas nunca se livrar, como em Kafka.
Seja como for, parece natural que ao longo do século XX encontremos um conjunto de representações literárias que reflictam a presença obsessiva, através das mais variadas formas de expressão literária, do imaginário e da realidade das guerras. As perturbações sociais que eclodem na cena europeia (e mundial) através dos dois conflitos mundiais completam-se com a consciência da Guerra Civil de Espanha (que forma o cenário mais amplo de um romance como O Ano da Morte de Ricardo Reis, 1984, de José Saramago) e, mais tarde, com a experiência traumática da guerra colonial e do conjunto de perdas e dores a que deu origem. Acresce a isto que a entrada de Portugal no século XX tinha ocorrido à sombra da enorme turbulência política e social causada quer pelo Ultimatum inglês, com as inúmeras reacções de revolta que atravessaram a sociedade portuguesa da época; quer pelo regicídio que vitimou D. Carlos em 1908 e a subsequente implantação da República, em 1910. Se a tudo isto juntarmos as perturbações sociais que caracterizaram a 1ª República, a instauração da ditadura em 1926, e o seu fim do Estado Novo em 1974, teremos um quadro de enorme conflitualidade que não pode deixar indiferentes aqueles que a ele assistem e sobre ele reflectem, assim abrindo a representação do fenómeno literário ao fazer de uma História que, no próprio momento em que acontece, deixa atrás de si um rasto sangrento e de grande perturbação. Os escritores novecentistas respondem a esta situação pela imersão, como dissemos entre si muito diferenciada, numa realidade política e social a que a Literatura não pode ficar alheia. E fazem-no através da manifestação de uma tomada de consciência de cidadania que pode dizer-se marca a forma como todo o escritor vive e certamente escreve.
