
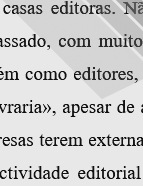
Até ao século XIX, como foi dito, a profissão de editor não existia. O impressor ou o livreiro, enquanto responsáveis pela produção do livro, não centravam a sua actividade na constituição de um determinado catálogo, tendo em mente um certo público, nem na revisão do texto ou na contratação de traduções – tarefas que constituem o âmago do trabalho do editor, que o individualizam e lhe dão uma identidade profissional. Embora pudessem, por vezes, escolher títulos, intervir no texto ou contratar traduções, estes profissionais apenas o faziam como forma de aumentar a produção, nunca como o centro da sua actividade. Frequentemente, as figuras do livreiro e do impressor sobrepunham-se, e o mesmo agente produzia, importava e vendia publicações. Esta realidade muda a partir dos finais de Setecentos. O alargamento da leitura e o consequente aumento do público leitor – e, naturalmente, a necessidade de se adoptarem estratégias para a sua fidelização, como os fascículos –, o embaratecimento da produção do livro, a expansão da edição nas línguas nacionais e, por essa via, o aumento da importância da tradução: todos esses factores definirão o papel do editor. Na segunda metade de Oitocentos, podemos já falar, com propriedade, de editores e casas editoras. Não obstante, em Portugal, registam-se e permanecem alguns elementos do passado, com muitos impressores e livreiros, por exemplo, a adaptarem-se e a trabalharem também como editores, mantendo as suas antigas actividades e a denominação de «tipografia» ou «livraria», apesar de a profissão de editor já se ter autonomizado como tal e de muitas dessas empresas terem externalizado a produção. Mas o movimento é irreversível e a separação entre a actividade editorial e a livreira continua no século XX, principalmente a partir dos anos 30; persistindo, contudo, algumas editoras-livrarias. (J. L. Lisboa, “Os Editores…”, 2015, pp. 15-22; J. L. Lisboa e D. Melo, “Passos Decisivos…”, 2015, pp. 33-34; N. Medeiros, Edição e Editores…, 2010, p. 101.)
Apesar do aumento do número de leitores, o livro mantém-se como objecto de consumo de uma elite nas primeiras décadas de Oitocentos (excepto alguns géneros, como a literatura de cordel, mais populares). É antes o jornal e o teatro que se assumem como os principais veículos de promoção de intelectuais junto do público e de difusão da respectiva obra. Portanto, o escritor não se profissionaliza como autor de livros, vivendo antes de outros trabalhos, nem consegue fazer-se editar no estrangeiro, salvo raras excepções, como Garrett ou Herculano. O mercado português mantinha-se, pois, subalterno e periférico, com a produção concentrada em apenas três cidades: Lisboa, Porto e Coimbra. (M. L. Santos, Intelectuais…, 1985, pp. 229 et seq.) Por motivos económicos (dificuldade em escoá-las a um maior preço), as edições eram de fraca qualidade; livros de luxo, ilustrados ou com bom acabamento (no papel e na encadernação, impressos com caracteres de boa qualidade) só se tornarão mais comuns a partir dos anos de 1870. (A. Anselmo, Estudos de História do Livro, 1997, p. 128.)
