
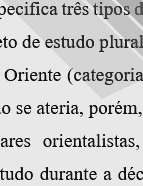
Se o espírito colecionista europeu foi desde o século XVIII atraído por motivos do Oriente, no final do século XIX, em ligação àquelas sociedades e associações científicas, criam-se outras estruturas de estímulo ao estudo e conhecimento do não europeu, umas formalmente mais organizadas, outras mais simbólico-patrióticas e de concretização temporal mais concentrada. Quanto às primeiras, destacam-se os museus coloniais (como o Museu Colonial de Lisboa que, começando a funcionar em 1870, se mudou para as instalações da Sociedade de Geografia em 1892) ou as coleções orientais privadas (como a que o visconde de S. Januário expôs, em 1878, na sua casa da rua do Alecrim, de que se leiloaram várias peças, indo algumas parar ao depósito do Museu Colonial de Lisboa [Cardoso, “Conde São Januário”, 2012-2013, p. 39]). As comemorações inserem-se nas segundas. A organização de exposições e a celebração de centenários foram mecanismos de materialização e rememoração do passado colonial português, pelos quais se revisitaram os heróis da história e da literatura da expansão marítima (de que sobressaem Vasco da Gama, D. Manuel, Nuno Álvares Pereira, o Infante D. Henrique, Camões, Afonso de Albuquerque, Fernão Mendes Pinto), transformados em símbolos da identidade nacional, e episódios históricos que foram determinantes na modelação dessa identidade (como a tomada de Ceuta, a Batalha de Alcácer Quibir ou a viagem de Vasco da Gama). O orientalismo em Portugal apoiou-se, então, num comemorativismo de culto do passado, pelo qual se fez a apologia do projeto de império português, e na mitificação da história nacional.
Assim sendo, entre a segunda metade do século XIX e prologando-se pela primeira metade do de XX, como, aliás, o contributo português para diversas sessões dos Congressos dos Orientalistas enfatiza, deteta-se, entre os orientalistas portugueses, uma obsessão, quase fetiche, com a história da presença portuguesa no Oriente, não fosse, como afirma David Lopes, “[o] século XVI [...] em Portugal o de maior atividade política e literária” (Chronica dos Reis de Bisnaga, 1897, p. LII). São os Portugueses que historiaram e documentaram essa aventura político-mercantil, como João de Barros, Diogo do Couto ou Garcia da Orta, que Lopes considera serem “os verdadeiros precursores dos orientalistas modernos, investigadores e concatenadores. Muitas vezes bebem nas fontes originais; outras recorrem a intérpretes; há uma sofreguidão de saber neles que é tanto mais admirável quanto os elementos de que se podia lançar mão eram poucos” (Idem, p. LII). A estes nomes, autores de crónicas e tratados, que ilustram o que hoje, à luz das teses saidianas sobre orientalismo moderno (Orientalismo, 1978), podemos interpretar como proto-orientalismo, acrescem os da atividade missionária, que produziu discursos com relevância documental, desde cartas reportando o avanço da missão a ferramentas linguísticas de apoio ao entendimento intercultural e ao êxito não apenas da conversão mas também do projeto comercial, e outros que escreveram roteiros e relatos de viagens, terrestres ou marítimas, bem como relatórios das embaixadas portuguesas ao Oriente.
