
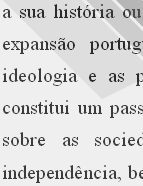
................................
Mas a necessidade de modernizar o ‘esforço civilizador’, fórmula cara a Salazar, viria a traduzir-se, em meados de Novecentos e na década de 1960, marcada pela guerra colonial, no reforço da colonização branca e do recurso ao lusotropicalismo de Freyre, para justificar a singularidade do colonialismo português. Esta situação permitia celebrar a existência de uma nação grande e una «do Minho a Timor», frase que se banalizou a partir de 1961; se Salazar sublinhava que Portugal era uma «nação pelo mundo repartida» (1963), sem preconceitos raciais nas suas práticas coloniais e civilizacionais, Franco Nogueira, ministro dos Negócios Estrangeiros, afirmava num discurso destinado tanto ao consumo externo quanto à acalmia das tensões internas resultantes da guerra colonial e da situação económica e política do país: “ fomos nós, e nós sós, que trouxemos à África antes de ninguém a noção de direitos humanos e de igualdade racial; e somos nós, e só nós, que praticamos o multirracialismo, havido por todos como a expressão mais perfeita e mais ousada de fraternidade humana e progresso sociológico.” (The Third World, 1967, 197-198).
A ideologização do conhecimento
A história da presença portuguesa nos espaços ultramarinos foi constantemente solicitada para criar um conhecimento que permitisse dar conta da existência dos povos, que convinha – em nome do realismo colonial – manter sob tutela, tornando-se, os produtores de economias dirigidas pelos portugueses, ‘incapazes’ de trabalhar em condições climáticas tão particulares como as dos trópicos. O racismo adquiria, assim, uma tinta climática: a superioridade do homem branco tornava-se visível, podendo até ser medida, devido ao facto específico da sua fragilidade física que contrastava com o seu vigor intelectual. Só os «selvagens», quer dizer, os homens caracterizados por uma rusticidade que os punha no mesmo plano dos animais, podiam enfrentar esta natureza descaroável.
